Stella by Starlight – Miles Davis
Este standard, tantas vezes imortalizado, é peça obrigatória em qualquer colecção musical. Pertence ao disco The Complete Concert 1964: My Funny Valentine + Four and More [Live].
Posts Tagged ‘ Miles Davis ’
Este standard, tantas vezes imortalizado, é peça obrigatória em qualquer colecção musical. Pertence ao disco The Complete Concert 1964: My Funny Valentine + Four and More [Live].
HE CAN READ MY MIND AND I CAN READ HIS – Miles Davis sobre Gil Evans
Sketches of Spain was the third collaboration (after Miles Ahead, 1957, and Porgy and Bess, 1958) between Miles Davis and Gil Evans for Columbia Records, and reunited the charismatic trumpeter with Gil Evans (1912-1988) following the 1959 recording of Kind of Blue. It is in these late ’50s recordings that Miles Davis (1926-1991) emerged as one of the supreme lyric-expressive players in jazz, representing as well a high point in his career and the culmination—at least temporarily—of a decade-long artistic/stylistic journey.
The centerpiece of the five tracks that comprised the original 1960 LP release of Sketches of Spain is “Concierto de Aranjuez,” originally written for guitar and orchestra by Joaquin Rodrigo in 1939. A masterpiece of its kind, it seemed tailor-made for Gil’s and Miles’s purposes, and provided their inspiration for the album’s all-Spanish/Andalusian flamenco theme. What attracted both men to this rather melancholy music, filled with a sense of longing and loneliness, was its intrinsic kinship with the blues. Both idioms flow from the same emotional bloodlines, as expressions of resistance to oppression and inhumanity. In this context, Miles was able to further discover his own distinctive voice and sound, and Evans was the one arranger/composer who could provide him with the appropriate complimentary orchestral settings that would accommodate Miles’s unique talents. The rest is history.
This historic edition presents the original album augmented by alternate and extra tracks, illustrating how this synergy developed. “The Maids of Cádiz” (from the 1957 album Miles Ahead) is the first example of Gil Evans adapting a composition of Spanish origin for an orchestral collaboration with Miles. The live performance of “Concierto de Aranjuez,” the only such ever given, took place in Carnegie Hall in 1961, offering a rare, heightened performance of this centerpiece. “Teo,” (from the 1961 album Someday My Prince Will Come) a small group piece dedicated to Producer Teo Macero, is simpatico with “Solea”—the other jewel from the original album, with its orchestral palette that is, in a word, sublime.
Faz hoje precisamente 50 anos que, com as faixas Flamenco Sketches e All Blues, se concluía a gravação em Estúdio da obra-prima de Miles Davis, Kind of Blue.
Sob a forma de tributo, criei uma página, especialmente dedicada a esta obra maior do jazz, que tive a felicidade de receber como prenda de Natal. 🙂
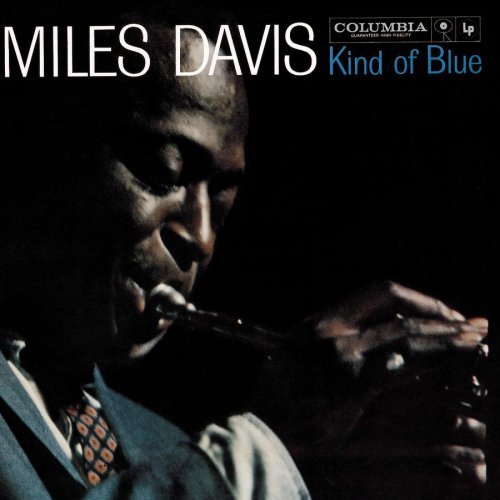
Miles Davis - Kind of Blue, 1959
… Na Gramática Portuguesa!
O mais parecido que me ocorre é: esta menina não tem parado de me surpreender!

Miles Davis – 50º Aniversário de Kind of Blue
1971: No Início era o Cascais Jazz…
Começa assim este excelente artigo publicado na Blitz deste mês e assinado por João Moreira dos Santos do Jazz no País do Improviso, para assinalar a passagem dos 35 anos sobre o primeiro grande festival de jazz em Portugal.
Pouco passava das 22h00 quando no dia 20 de Novembro de 1971 o septeto do lendário Miles Davis subia ao palco do Pavilhão do Dramático para dar início ao primeiro Cascais Jazz. Cerca de 12 mil pessoas, incluindo alguns notáveis, como Amália Rodrigues, Zeca Afonso, Alexandre O’Neil e Adriano Correia de Oliveira, assistiam nessa noite ao nascimento de um dos mais importantes eventos culturais realizados em Portugal, que até então só rivalizara em audiência com o Festival de Vilar de Mouros, realizado quatro meses antes.
Quem estava desde logo bem ciente da importância do Cascais Jazz era Miles Davis, pelo que exigiu ser o primeiro músico a tocar, como recorda João Braga: «Ele disse-me uma coisa que nunca mais me esqueci: “este é o primeiro festival de jazz em Portugal e quero ser eu a abri-lo. Os outros só podem tocar a seguir a mim”». E entre os outros encontrava-se nada menos do que Ornette Coleman, que estava previsto tocar antes e não achou graça nenhuma às exigências do trompetista.
Miles Davis estreava-se em Portugal e trazia na sua bagagem musical a sonoridade e o repertório de quatro discos: Bitches Brew, que criara a fusão entre o jazz e o rock, Black Beauty, Live at the Fillmore East e Live Evil. Quem esperava, pois, ouvir o Miles do tempo dos seus lendários quintetos dos anos 50 e 60 não podia deixar de estranhar este projecto de ruptura, claramente orientado para audiências mais jovens. Talvez por isso o mago do trompete já não usava fatos de alta-costura italiana, apresentando-se agora como uma estrela do rock. Diniz de Abreu descrevia assim no Diário Popular a sua nova indumentária: «Colete de pele preto, camisa da mesma cor, calça verde acetinada, muito justa, um lenço ao pescoço, caído em duas pontas; cinto dourado; botas prateadas; óculos escuros».
Miles subiu ao palco juntamente com Keith Jarrett (piano eléctrico), Gary Bartz (saxofone), Michael Henderson (baixo eléctrico), Don Alias e James Foreman (percussão) e Leon Chandler (bateria). A suportar a sua música predominantemente eléctrica e funky, com o trompete de Miles ligado a um pedal de efeitos (wah-wah e volume), estava um sistema de som de duas toneladas. Um dos músicos mais notados deste septeto foi o pianista Keith Jarrett, conforme noticiava o Diário de Lisboa na crítica ao festival: «(..) Um solo deste último marcou profundamente toda a assistência, absolutamente conquistada». Porém nem todos se renderam à nova sonoridade de Miles. Duarte Mendonça era um deles, como recorda actualmente: «Deixou-me um pouco perplexo porque era uma música que eu nunca tinha ouvido. Eu vinha do melhor do Miles dos anos 50/60…».
 Também a peculiar atitude de Miles em palco não surpreendeu menos os jornalistas presentes. Na revista O Século Ilustrado, Maria Antónia Palla reportava: «Quando Miles pára e deixa tocar o seu conjunto, fica a um canto do palco, o corpo inclinado para a frente, as mãos fixadas nos joelhos, balançando-se como um felino selvagem pronto a saltar sobre a presa. O rosto cerrado, sem deixar transparecer a menor emoção, fixa o olhar num ponto indeterminado. (…) Numa hora passada de exibição, nem um sorriso. Como se o público não contasse, como se a multidão fosse um inimigo potencial». Já Fernando Cascais, então jornalista da revista Flama e que teve a rara sorte de ficar num canto do palco durante este concerto, escrevia: «Miles foi uma figura que impressionou a assistência. Dobrado sobre a trompete, as notas e os magníficos sons que dele saíam tinham o mistério e o timbre que tornam o seu possuidor inconfundível entre os trompetistas de jazz». João Braga era também um espectador atento ao que se passava em palco e um facto em especial chamou a sua atenção para Miles Davis: «A água que escorria das costas dele durante o concerto era algo inumano, certamente por causa das profaminas [ver caixa]. Quando ele no final do concerto chegou aos camarins nem conseguia articular uma frase».
Também a peculiar atitude de Miles em palco não surpreendeu menos os jornalistas presentes. Na revista O Século Ilustrado, Maria Antónia Palla reportava: «Quando Miles pára e deixa tocar o seu conjunto, fica a um canto do palco, o corpo inclinado para a frente, as mãos fixadas nos joelhos, balançando-se como um felino selvagem pronto a saltar sobre a presa. O rosto cerrado, sem deixar transparecer a menor emoção, fixa o olhar num ponto indeterminado. (…) Numa hora passada de exibição, nem um sorriso. Como se o público não contasse, como se a multidão fosse um inimigo potencial». Já Fernando Cascais, então jornalista da revista Flama e que teve a rara sorte de ficar num canto do palco durante este concerto, escrevia: «Miles foi uma figura que impressionou a assistência. Dobrado sobre a trompete, as notas e os magníficos sons que dele saíam tinham o mistério e o timbre que tornam o seu possuidor inconfundível entre os trompetistas de jazz». João Braga era também um espectador atento ao que se passava em palco e um facto em especial chamou a sua atenção para Miles Davis: «A água que escorria das costas dele durante o concerto era algo inumano, certamente por causa das profaminas [ver caixa]. Quando ele no final do concerto chegou aos camarins nem conseguia articular uma frase».
Em noite de sons funky e eléctricos, o gigante do jazz impressionou a diva do fado. Amália Rodrigues encantou-se com Miles e Gary Bartz mas teve alguma dificuldade em compreender a sua música: “Não, totalmente não entendi. Eu sei que há qualquer coisa de vez em quando que acontece e que me toca, mas de resto não sei nada, não entendo nada de jazz. É para ver se entendo alguma coisa que eu vim ver”.
 De 1971 a 1980 o Pavilhão do Dramático foi uma verdadeira casa para os maiores jazzmen e bluesmen. Integrados no Cascais Jazz, por ali passaram, entre muitos outros, Jimmy Smith, Cannonball Adderley, Dave Brubeck, B.B. King, Duke Ellington, Sarah Vaughan, McCoy Tyner, Charles Mingus, Sonny Rollins, Gil Evans, Muddy Waters, Art Blakey & The Jazz Messengers, Betty Carter, Freddie Hubbard e Buddy Guy.
De 1971 a 1980 o Pavilhão do Dramático foi uma verdadeira casa para os maiores jazzmen e bluesmen. Integrados no Cascais Jazz, por ali passaram, entre muitos outros, Jimmy Smith, Cannonball Adderley, Dave Brubeck, B.B. King, Duke Ellington, Sarah Vaughan, McCoy Tyner, Charles Mingus, Sonny Rollins, Gil Evans, Muddy Waters, Art Blakey & The Jazz Messengers, Betty Carter, Freddie Hubbard e Buddy Guy.
(…) Depois de Ornette Coleman ainda actuaram o quarteto The Bridge e Dexter Gordon. O primeiro pouco mais foi do que uma ponte para a actuação de Dexter Gordon, prejudicado por uma aparelhagem sonora que mal deixava ouvir o saxofone de João Ramos Jorge (Rão Kyao) que improvisava sobre a harmonia e o ritmo de Kevin Hoidale (piano), Jean Sarbib (contrabaixo) e Adrien Ransy (bateria).
Com a acumulação de atrasos, Dexter Gordon acabou por subir ao palco eram já três horas da madrugada… actuando perante um sala bem menos cheia. Acompanhado por Marcos Resende (piano), Jean Sarbib (contrabaixo) e Manuel Jorge Veloso (bateria), fez soar a sua música até por volta das cinco horas… Desta experiência recorda-se bem Manuel Jorge Veloso, que já em 1967 havia tocado com Dexter Gordon numa jam-session em Coimbra: «É impossível dar uma pálida ideia do que significou para mim ter pisado o palco com um músico da grandeza do Dexter Gordon, até por se tratar de um primeiro grande festival português que (já então se percebia) iria fazer história.
Mas talvez ainda mais importante do que esse momento, em concreto, foi poder conviver diariamente com ele (nos poucos dias que tivemos, para ensaiar, conhecer os segredos da música, acertar agulhas e tocar algumas noites no Hot Clube Portugal), confirmar a sua qualidade musical e descobrir as suas qualidades humanas, como músico e homem sensível, nada arrogante, paciente e incentivador, fazendo com que esta aventura – nessa época, era de facto uma aventura! – fosse afinal, para nós, uma coisa natural. Inesquecíveis, ainda, os ensinamentos e a confiança que ele nos transmitia, as histórias que contava, os seus gestos lentos, a forma como mexia o corpo, apresentava o saxofone aos que o ouviam e dizia os títulos das peças que tocava, para já não falar das sonoras gargalhadas que jamais voltei a ouvir…».
Texto de João Moreira dos Santos

| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |